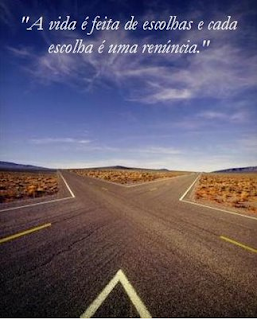Este artigo discute a distinção entre os conceitos védicos designados pelos termos "saṃnyāsa" (renúncia) e "tyāga" (entrega), redefinidos por Krishna ao longo do episódio da Bhagavad Gītā. Krishna discute a natureza fractal e sintrópica da ação virtuosa, caridosa, amorosa e perfeitamente ética, que se vincula ao mistério da renúncia ao efêmero e entrega ao sagrado. Ele trata, em suma, da renúncia (saṃnyāsa1), como a condição sine qua non do despertar da consciência, e da entrega (tyāga), como a condição necessária para a ascese mística (Brahma-sāmīpya).
A literatura védica, de forma geral, não faz uma distinção clara entre "saṃnyāsa" (renúncia) e "tyāga" (entrega). Ela se estrutura a partir do axioma não dualista da identidade entre a imanência e a transcendência do sagrado. Este princípio único da unidade de toda a experiência fenomenológica tem a sua expressão empírica no sentimento da comunhão com o sagrado (śraddhā), que decorre das práticas de contemplação (bhāvana) associadas às cinco formas de organização do pensamento superior2 (cintā-s), base de toda a heurística utilizada pelos grandes sábios (Ṛṣi-s) para construírem as suas visões de mundo (Ṛṣi-nyāsa). Na Bhagavad Gītā, em particular, Krishna parte deste axioma fundamental para formular o Śraddhā Yoga, fundado no sentimento sintrópico de conexão com o sagrado (śraddhā) e que contempla uma reflexão criteriosa sobre a natureza da ação e sobre a arte e a ciência da meditação.
O primeiro capítulo da Bhagavad Gītā descreve o estado de confusão mental e depressão de Arjuna, fruto da sua indecisão sobre a melhor forma de agir. Os demais capítulos mostram Krishna orientando Arjuna para que ele execute toda e qualquer atividade no mundo como uma forma de pura meditação – a meditação na ação. Krishna convida Arjuna a vencer, inicialmente, os seus verdadeiros inimigos, representados pelas paixões inferiores. São elas que nos levam a acreditar, equivocadamente, que atores, à nossa imagem e semelhança, possam constituir-se como nossos inimigos no teatro da vida. É com esta disposição que Arjuna deve desempenhar o seu papel. Para desenvolver esse dom sagrado de perceber a realidade última que se oculta sob os véus de māyā (a energia feminina, que produz a sensação de concretude e realidade do mundo fenomênico e que corresponde, aproximadamente, aos Cinco Agregados, ou Skandha-s do budismo: a forma material, a sensação, a percepção, o condicionamento mental e a consciência de si), o Senhor Krishna prescreve a Arjuna a renúncia (saṃnyāsa) ao funcionamento de base material e egoísta, regulado pela natureza material do ser (ahaṃkāra), e a gradual entrega (tyāga) ao funcionamento sintrópico, de base altruísta, regulado pela sua natureza espiritual (Ātman).
A superação da sujeição que nos é imposta pela nossa natureza material (ahaṃkāra) em função dos estímulos recebidos do mundo (expressão de māyā) tem início quando aprendemos a agir pelo coração, despertando o sentimento sintrópico de conexão com o sagrado (śraddhā) e aprendendo a contemplar (bhāvana), em todos os fenômenos do mundo, a realidade última, a um só tempo, transcendente e imanente. A Bhagavad Gītā trata desta inversão no funcionamento do ser do modo guṇa-para para Ātma-para. O modo guṇa-para é caracterizado pela sujeição à influência dos três guṇa-s (tendências, qualidades) que caracterizam māyā: sattva, rajas e tamas, respectivamente, as energias que levam à estabilização, desestabilização, ou destruição da natureza e do mundo. O modo Ātma-para é caracterizado pelo estado amoroso de liberdade (kaivalya) do Espírito puro que reside no imo do sagrado coração e pela ação impecável, de natureza fractal e sintrópica. Este modo está ilustrado, por exemplo, na seguinte máxima de Hermes Trismegisto, "Assim como acima, abaixo; assim como dentro, fora; assim como no universo, no corpo3 humano".
A superação da sujeição que nos é imposta pela nossa natureza material (ahaṃkāra) em função dos estímulos recebidos do mundo (expressão de māyā) tem início quando aprendemos a agir pelo coração, despertando o sentimento sintrópico de conexão com o sagrado (śraddhā) e aprendendo a contemplar (bhāvana), em todos os fenômenos do mundo, a realidade última, a um só tempo, transcendente e imanente. A Bhagavad Gītā trata desta inversão no funcionamento do ser do modo guṇa-para para Ātma-para. O modo guṇa-para é caracterizado pela sujeição à influência dos três guṇa-s (tendências, qualidades) que caracterizam māyā: sattva, rajas e tamas, respectivamente, as energias que levam à estabilização, desestabilização, ou destruição da natureza e do mundo. O modo Ātma-para é caracterizado pelo estado amoroso de liberdade (kaivalya) do Espírito puro que reside no imo do sagrado coração e pela ação impecável, de natureza fractal e sintrópica. Este modo está ilustrado, por exemplo, na seguinte máxima de Hermes Trismegisto, "Assim como acima, abaixo; assim como dentro, fora; assim como no universo, no corpo3 humano".
O funcionamento Ātma-para deriva de dois compromissos fundamentais: (1) o conhecimento progressivo sobre a natureza da meta que se quer alcançar; e (2) a disposição para se treinar, incansavelmente, em todas as ações e pensamentos do dia-a-dia, o poder de renunciar, imediata e instantaneamente, a qualquer coisa contrária à meta. A renúncia (saṃnyāsa) ao efêmero evoca a entrega (tyāga) ao sagrado e dá início à aproximação assimptótica à meta suprema, caracterizada pelo funcionamento Ātma-para, que implica no desenvolvimento gradual do estado de atenção plena e de perfeita vigilância aos estímulos que nos chegam, ininterruptamente, pelos sentidos. Saṃnyāsa e tyāga devem ser exercidas a todo o momento para impedir que pensamentos inadequados instalem-se em nossa mente. Esta é a disciplina mental proposta por Krishna a Arjuna. O sucesso na arte da meditação depende desta capacidade de atualizar, a todo o instante, o trabalho interior de renúncia (saṃnyāsa) imediata ao efêmero (caracterizado pelo funcionamento guṇa-para) e, consequentemente, de entrega (tyāga) de si mesmo ao amoroso funcionamento ióguico, sintético, descrito na Bhagavad Gītā como Ātma-para. Tal funcionamento implica no desabrochar da meditação pura (śuddha dhyāna) e daquele silêncio interior que nos permite auscultar o sagrado e despertar a nossa consciência sintrópica.


Cabe destacar que a Bhagavad Gītā trata da renúncia (saṃnyāsa) ao interesse pessoal e não à ação justa, necessária, legítima e realizada pelo bem de todos, marca característica da entrega (tyāga) ao funcionamento ióguico, ou espiritualista (Ātma-para), conforme Krishna esclarece a Arjuna. A Bhagavad Gītā afirma que o funcionamento ióguico manifesta-se pela maestria em todas as ações. Expressa a nossa capacidade de renunciar ao mais prazeroso (preyas), dando primazia àquilo que se concebe ser o melhor e mais justo (śreyas). A renúncia (saṃnyāsa) à execução de todas as atividades manchadas, ou pelo interesse próprio, ou por contrariarem as leis ambientais e sociais (dharma), orienta-nos, naturalmente, para o sagrado, presente em nosso próprio coração, e objeto de nossa crescente devoção e entrega (tyāga). Trabalhar ativamente pelo bem do mundo, sem, contudo, pertencer a este mundo, caracterizado pelo sofrimento, constitui, em essência, o que se compreende por saṃnyāsa e tyāga no contexto da Bhagavad Gītā. O engajamento, simultaneamente, ativo e contemplativo no mundo constitui a essência dos ensinamentos da Bhagavad Gītā. Anteriormente à Bhagavad Gītā, tornar-se um saṃnyāsin, um monge renunciante, significava desligar-se do mundo e abandonar a via de ação, conforme praticada no mundo. A revelação de Krishna, entretanto, redefine, ou atualiza, o entendimento daquilo que constituia a via do renunciante (saṃnyāsin). Krishna pede a Arjuna que aprenda a estar no mundo, sem ser do mundo e não que ele se torne um saṃnyāsin no sentido védico do termo, conforme era o seu desejo, expresso na abertura do segundo capítulo da Bhagavad Gītā. Gandhi, que orientou toda a sua vida segundo a ética amorosa da Bhagavad Gītā, representa um exemplo moderno desta mesma práxis ensinada por Krishna.
 |
| A Morte de Sócrates - Pintura óleo sobre tela (1787) de Jacques-Louis David |
 A decisão de Sócrates de renunciar ao efêmero e se entregar ao sagrado, optando, deste modo, por não escapar à sua sentença de morte, somente voltaria a se repetir alguns séculos mais tarde com o exemplo de saṃnyāsa (renúncia) e tyāga (entrega) de Jesus que, perante o tribunal romano, calou-se ao ser perguntado se era o rei dos judeus. Bastaria que negasse a acusação e estaria livre, conforme as regras jurídicas vigentes na época. Entretanto, Jesus renuncia à esta via escapista e se entrega à vontade do seu Pai, aceitando, deste modo, a crucifixação, que fica como testemunha das verdades que trouxera.
A decisão de Sócrates de renunciar ao efêmero e se entregar ao sagrado, optando, deste modo, por não escapar à sua sentença de morte, somente voltaria a se repetir alguns séculos mais tarde com o exemplo de saṃnyāsa (renúncia) e tyāga (entrega) de Jesus que, perante o tribunal romano, calou-se ao ser perguntado se era o rei dos judeus. Bastaria que negasse a acusação e estaria livre, conforme as regras jurídicas vigentes na época. Entretanto, Jesus renuncia à esta via escapista e se entrega à vontade do seu Pai, aceitando, deste modo, a crucifixação, que fica como testemunha das verdades que trouxera.
N O T A S
(1) Para conhecer a pronúncia das palavras sânscritas veja o nosso resumo do Guia de Transliteração e Pronúncia das palavras sânscritas. |
| Esquema da ordenação do pensamento (cintā) |
Não é difícil perceber que as cinco cintās compõem as três bases onde se funda o Śraddhā Yoga:
- a prática do Bhāvana está compreeendida nas duas primeiras cintās -- Vibhūti-cintā e Jñāna-cintā;
- aquilo que se entende por Karma está representado nas duas seguintes -- Saṃkalpa-cintā e Karma-cintā; e
- Brahma-cintā representa aquilo que está na raiz mesma de toda a criação, Dhyāna.
O Śraddhā Yoga implica em não se privilegiar uma forma de espiritualidade, ou de prática religiosa, mas em se deixar guiar, simplesmente, pela percepção da essência pura (śuddha) da lei (dharma) que rege o funcionamento objetivo e subjetivo dos seres e que na linguagem técnica do sânscrito designa-se como Śuddha Dharma.
(3) A seguinte passagem do texto medieval Śiva-Saṃhitā procura ilustrar esta relação fractal do corpo cósmico:
Neste corpo, existe um Meru ligado a sete ilhas. Há também os rios, os oceanos, as montanhas, os campos e os guardiões dos campos. E neles os sábios, todas as estrelas e planetas, os locais de peregrinação e os templos com as suas respectivas deidades. O sol e a lua funcionando como os agentes da emanação e dissolução, como uma névoa com os elementos ar, fogo, água e terra. Todos os objetos dos três planos de existência [material, celestial e transcendente] estão contidos no corpo e atuam em torno desse Meru. Unicamente o yogi, não há dúvidas, tem consciência disto. (ŚS 2.1-5)
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2019.
(Atualizado em 31.01.24.)
(Atualizado em 31.01.24.)