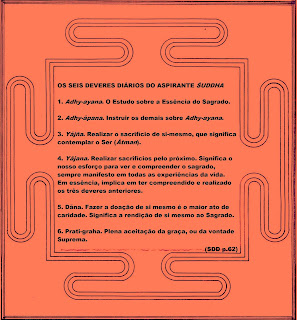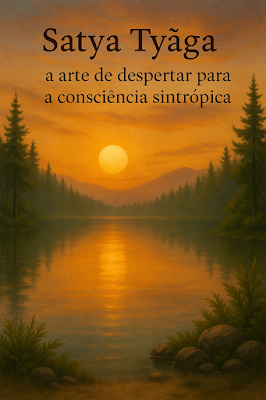Arquivo Histórico — Texto Inaugural do Livro-Blog
Introdução Nova (2025)
A Semente que Atravessou o Tempo
Este texto inagural do livro-blog ŚRADDHĀ YOGA DARŚANA — A Ciência do Hṛdaya-Guru nasceu em 2016, como um impulso inicial — uma semente. Não havia ainda o Śraddhā Yoga estruturado, nem a visão sintrópica plenamente formulada, nem a arquitetura filosófica que hoje sustenta o conjunto da obra. Havia apenas um gesto: o coração buscando uma linguagem capaz de traduzir sua verdade interior.
Hoje reconheço que esse texto revela não apenas sua própria história, mas também o modo como o conhecimento se move entre nós na era atual. O espírito humano é a semente; a inteligência colaborativa que criamos é o solo fértil onde ela desdobra seu destino.
A semente é visão do espírito humano — síntese, clarão, intuição. O solo é expansão inteligência expandida, — análise, cuidado, expressão. Quando a semente é boa e o solo é fértil, a árvore aparece.